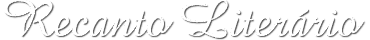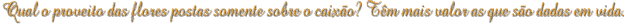Oralidade e literatura: oralitura, vencendo os silêncios
Introdução
“Oralidade e Literatura: Da Tradição à Palavra Escrita – Como Vencer os Silêncios?” Eis o tema, belo tema! E, antes de tudo, merece realce especial para a interrogação que é feita (“Como vencer os silêncios?”), pois têm sido muitos os silêncios impostos aos povos colonizados ao longo do tempo e em todos os lugares, embora os silêncios, evidentemente, não se deem só por isso. Sim, não é só por isso, mas, para o caso em pauta, tem muito sentido, por óbvio, a colonização portuguesa no Brasil e na África (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe), sem prejuízo, presumo, das colônias de Portugal na Ásia, embora eu, como brasileiro, possa falar com mais propriedade apenas do Brasil.
Oralitura
Falar de oralidade e literatura impõe, penso, a obrigação de começar, indispensavelmente, por aludir ao conceito de literatura oral dado, em 1881, por Paul Sébillot, qual seja, de forma bem resumida, toda produção literária de pessoas que não leem, mas se vinculam à Literatura (apud FERNANDES, 2013, p. xi). E ainda, indo bem mais além, ao conceito de oralitura, proposto por Leda Maria Martins (MARTINS, 2001, p. 84, apud COSTA; PEREIRA, [s.d.], p. 89):
O termo oralitura, da forma como o apresento, não nos remete univocamente ao repertório de formas e procedimentos culturais da tradição linguística, mas especificamente ao que em sua performance indica a presença de um traço cultural estilístico, mnemônico, significante e constitutivo, inscrito na grafia do corpo em movimento e na velocidade.
Com efeito, faz muito sentido trazer também à lição de Ari Silva Mascarenhas de Campos, que diz (referindo-se aos povos indígenas brasileiros e, por conseguinte, no sentido que mais interessa aqui): “Na ausência de registro escrito, as histórias são transmitidas oralmente, e o conjunto de narrativas, poesias e rituais anterior à colonização e preservado pelos descendentes dos povos autóctones pode ser denominado de oralitura” (CAMPOS, 2013, p. 9).
Vale dizer, em síntese, que oralitura é a oralidade como forma e fonte de produção, expressão e transmissão de saberes, não só pela palavra falada, mas também pelas diversas formas de expressão do corpo. Logo, a oralidade, como a transmissão de saberes de geração a geração, é a forma mais antiga de transmissão do conhecimento, pois este não surge apenas com a escrita, é, ninguém há de discordar disso, muito anterior a ela. Daí se afirmar, por exemplo, que Homero não criou a Ilíada e a Odisseia, mas apenas as verteu para a escrita, uma vez que já eram poemas transmitidos pela tradição antes dele (SILVA, s.d., n.p.).
A oralidade constitui a principal e mais simples forma de transmissão do conhecimento, cultura e tradições de um povo. É a forma como a mãe e o pai, mas principalmente a mãe, ensinam e transmitem ao filho, desde a mais tenra idade deste, a cultura, os saberes de seu povo, da ancestralidade, a ideia de pertencimento, como (por exemplo e de forma bem resumida) a ideia de africanidade e de negritude, no continente africano, a ideia de brasilidade, no Brasil, e assim por diante.
As tentativas de silenciamento e a dizimação histórica
Pois bem. Aqui, se faz necessário o realce para a questão dos silêncios. O silêncio ou a tentativa de silenciamento da oralidade foi, por tudo isso aí, uma prática muito cruel do colonizador em todos os tempos e todos os povos. Basta atentar para a história. Todo colonizador tenta, de todas as formas, suprimir os saberes, a cultura e as tradições do colonizado, ao mesmo tempo em que tenta impor os dele, colonizador. Foi o que fez, por exemplo e para o que interessa aqui, o colonizador português, não só em relação aos povos indígenas e africanos no Brasil, mas também relação aos povos dos países africanos que foram colonizados. É isso que eu, como filho de um país que foi colonizado, entendo como os silêncios que ainda hoje precisamos vencer.
O Brasil tem hoje, segundo dados oficiais de 2022, cerca de 1,7 milhão de indígenas (BRASIL, 2023) e ainda são faladas cerca de duzentas línguas das cerca de 1,2 línguas que existiram (SÃO PAULO, 2022, n.p.). Estima-se, porém, que, quando o colonizador português aqui chegou, havia de cinco a sete milhões de indígenas (SILVA, n.p.). São estimativas e os números ainda são controversos, é verdade.
Deixando as controvérsia à parte, com efeito, ainda existem os povos guarani, ianomâmi, kaiowá, terena, dentre outros. Quanto aos povos africanos escravizados, foram mais de trezentos anos de escravidão, com cerca de quatro milhões de seres humanos escravizados (BRASIL, 2000, n.p.). E todos eles, indígenas e africanos, foram submetidos a todas as formas de silêncio dos seus saberes, cultura e tradições, os quais, não obstante todas essas tentativas de silenciamento, foram mantidos e transmitidos pela oralidade.
Desafios e estratégias
Os desafios e ao mesmo tempo as estratégias são, pois, incentivar a manutenção viva da oralidade ancestral dos vários povos e a sua transmissão contínua, de geração em geração, sem prejuízo do incentivo aos concomitantes registros literários, nos mais diversos gêneros. E, neste sentido, o Brasil tem adotado medidas interessantíssimas, tanto na esfera normativa quanto na esfera educativa, depois da Constituição de 1988. Registre-se desde bem antes, porém, a produção de muitos autores que na sua escrita promovem a oralidade. É o caso, à guisa de apenas um entre os vários exemplos que poderiam ser dados aqui, de Ariano Suassuna com o seus clássicos Auto da compadecida, publicado em 1955, e O santo e a porca, de 1957, bem como o Movimento Armorial, que fundou em 1970. São muitos os escritores e muitas as obras literárias de preservação, reinvenção e (ou) reafirmação das narrativas e memórias da oralidade.
A história e cultura afro-brasileira e indígena
Em bora hora, a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, art. 210, § 2.º) estatuiu: “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.” Mais à frente: “O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 1988, art. 215, § 1.º). E por fim: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (BRASIL, 1988, art. 231).
Ainda na esfera normativa, veio a determinação de que sejam ensinadas no ensino fundamental e no ensino médio a história e cultura afro-brasileira e indígena, determinação esta prevista expressamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n.º 11.645, de 10 de março de 2008 (BRASIL, 1996, art. 26-A), que diz:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1.º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2.º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.
Por fim, visando à implementação desses comandos normativos na esfera educativa, veio a Base Nacional Comum Curricular, abreviadamente BNCC, a qual é um documento normativo que estabelece as aprendizagens essenciais para os estudantes da educação básica e tem como objetivo garantir uma educação de qualidade e – ao definir o nível comum de conhecimentos, habilidades e competências – reduzir as desigualdades em todo o território nacional (BRASIL, 2018).
Assim, como interessante estratégia, BNCC (BRASIL, 2018) estabelece quatro grandes eixos, como práticas de linguagem, para o ensino da língua portuguesa, a saber: oralidade, análise linguístico-semiótica, leitura e escuta, e produção de texto. Ou seja, a oralidade é o primeiro eixo, o que demonstra, sem prejuízo dos demais, a sua importância no todo.
Considerações finais
Concluo, em face do exposto, com um misto de alegria e muita honra em poder registrar que, a despeito da crueldade e da tentativa de silenciamento impostas, no passado não muito distante, aos povos indígenas e aos povos africanos aqui escravizados, no Brasil, tanto os escritores (desde bem antes) quanto o governo (depois da promulgação da Constituição de 1988) têm contribuído, sobremaneira, para vencer os silêncios, preservar, reinventar, manter vivos e transmitir os saberes, histórias, memórias e tradições da oralidade. Em outras palavras, o Brasil tem feito por promover não só a literatura, mas também a oralitura.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília: Ministério da Educação, 2018. . Acesso em: 21 ago. 2025.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2025.
BRASIL. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 2023. Dados do Censo 2022 revelam que o Brasil tem 1,7 milhão de indígenas. Brasília, 7 jul. 2023. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2025.
CAMPOS, Ari Silva Mascarenhas de. Literatura brasileira I. São Paulo: Senac São Paulo, 2023. (Série Universitária).
COSTA, Daniel Santos; PEREIRA, Sayonara, O corpo é uma festa! Reflexões em torno da oralidade brasileira. [s.d.]. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2025.
FERNANDES, Frederico Augusto Garcia (organizador). Oralidade e literatura: manifestações e abordagens no Brasil [livro eletrônico]. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2013. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2025.
SÃO PAULO (Estado). Museu da Língua Portuguesa. Os povos indígenas e o Português do Brasil. São Paulo, 31 ago. 2022. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2025.
SILVA, Daniel Neves. Homero. Disponível em: . Acesso em: 21 ago. 2025.
SILVA, Daniel Neves. Povos indígenas do Brasil. Brasil Escola. Disponível em: . Acesso em 21 de agosto de 2025.
Enviado por Valdinar Monteiro de Souza em 01/09/2025
Alterado em 01/09/2025